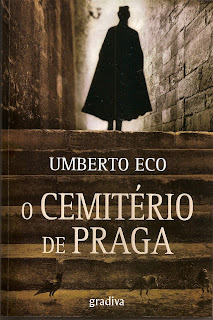Quando nos pedem para indicar
um número muito limitado de livros importantes para conhecer o Brasil,
oscilamos entre dois extremos possíveis: de um lado, tentar uma lista dos
melhores, os que no consenso geral se situam acima dos demais; de outro lado,
indicar os que nos agradam e, por isso, dependem, sobretudo, do nosso arbítrio
e das nossas limitações. Ficarei mais perto da segunda hipótese.
Como sabemos, o efeito de um
livro sobre nós, mesmo no que se refere à simples informação, depende de muita
coisa além do valor que ele possa ter. Depende do momento da vida em que o
lemos, do grau do nosso conhecimento, da finalidade que temos pela frente. Para
quem pouco leu e pouco sabe, um compêndio de ginásio pode ser a fonte
reveladora. Para quem sabe muito, um livro importante não passa de chuva no
molhado. Além disso, há as afinidades profundas, que nos fazem afinar com certo
autor (e, portanto, aproveitá-lo ao máximo) e não com outro, independente da valia
de ambos.
Por isso, é sempre complicado
propor listas reduzidas de leituras fundamentais. Na elaboração da que vou
sugerir (a pedido) adotei um critério simples: já que é impossível enumerar
todos os livros importantes no caso, e já que as avaliações variam muito,
indicarei alguns que abordam pontos a meu ver fundamentais, segundo o meu
limitado ângulo de visão. Imagino que esses pontos fundamentais correspondem à
curiosidade de um jovem que pretende adquirir boa informação a fim de poder
fazer reflexões pertinentes, mas sabendo que se trata de amostra e que,
portanto, muita coisa boa fica de fora.
São fundamentais tópicos como
os seguintes: os europeus que fundaram o Brasil; os povos que encontraram aqui;
os escravos importados sobre os quais recaiu o peso maior do trabalho; o tipo
de sociedade que se organizou nos séculos de formação; a natureza da
independência que nos separou da metrópole; o funcionamento do regime
estabelecido pela independência; o isolamento de muitas populações, geralmente
mestiças; o funcionamento da oligarquia republicana; a natureza da burguesia
que domina o país. É claro que estes tópicos não esgotam a matéria, e basta
enunciar um deles para ver surgirem ao seu lado muitos outros. Mas penso que,
tomados no conjunto, servem para dar uma ideia básica.
Entre parênteses: Desobedeço o
limite de dez obras que me foi proposto para incluir de contrabando mais uma,
porque acho indispensável uma introdução geral, que não se concentre em nenhum
dos tópicos enumerados acima, mas abranja em síntese todos eles, ou quase. E,
como introdução geral, não vejo nenhum melhor do que O povo brasileiro (1995),
de Darcy Ribeiro, livro trepidante, cheio de ideias originais, que esclarece
num estilo movimentado e atraente o objetivo expresso no subtítulo: “A formação
e o sentido do Brasil”.
Quanto à caracterização do
português, parece-me adequado o clássico Raízes do
Brasil (1936), de
Sérgio Buarque de Holanda, análise inspirada e profunda do que se poderia
chamar a natureza do brasileiro e da sociedade brasileira a partir da herança
portuguesa, indo desde o traçado das cidades e a atitude em face do trabalho
até a organização política e o modo de ser. Nele, temos um estudo de transfusão
social e cultural, mostrando como o colonizador esteve presente em nosso
destino e não esquecendo a transformação que fez do Brasil contemporâneo uma
realidade não mais luso-brasileira, mas, como diz ele, “americana”.
Em relação às populações
autóctones, ponho de lado qualquer clássico para indicar uma obra recente que
me parece exemplar como concepção e execução: História dos índios do Brasil (1992), organizada por Manuela
Carneiro da Cunha e redigida por numerosos especialistas, que nos iniciam no
passado remoto por meio da arqueologia, discriminam os grupos linguísticos, mostram
o índio ao longo da sua história e em nossos dias, resultando uma introdução
sólida e abrangente.
Seria bom se houvesse obra
semelhante sobre o negro, e espero que ela apareça quanto antes. Os estudos
específicos sobre ele começaram pela etnografia e o folclore, o que é
importante, mas limitado. Surgiram depois estudos de valor sobre a escravidão e
seus vários aspectos, e só mais recentemente se vem destacando algo essencial:
o estudo do negro como agente ativo do processo histórico, inclusive do ângulo
da resistência e da rebeldia, ignorado quase sempre pela historiografia
tradicional. Nesse tópico resisto à tentação de indicar o clássico O abolicionismo (1883),
de Joaquim Nabuco, e deixo de lado alguns estudos contemporâneos, para ficar
com a síntese penetrante e clara de Kátia de Queirós Mattoso, Ser escravo no Brasil (1982), publicado originariamente em
francês. Feito para público estrangeiro, é uma excelente visão geral desprovida
de aparato erudito, que começa pela raiz africana, passa à escravização e ao
tráfico para terminar pelas reações do escravo, desde as tentativas de alforria
até a fuga e a rebelião. Naturalmente valeria a pena acrescentar estudos mais
especializados, como A escravidão
africana no Brasil (1949),
de Maurício Goulart ou A integração
do negro na sociedade de classes (1964),
de Florestan Fernandes, que estuda em profundidade a exclusão social e
econômica do antigo escravo depois da Abolição, o que constitui um dos maiores
dramas da história brasileira e um fator permanente de desequilíbrio em nossa
sociedade.
Esses três elementos formadores
(português, índio, negro) aparecem inter-relacionados em obras que abordam o
tópico seguinte, isto é, quais foram as características da sociedade que eles
constituíram no Brasil, sob a liderança absoluta do português. A primeira que
indicarei é Casa grande e
senzala (1933), de
Gilberto Freyre. O tempo passou (quase setenta anos), as críticas se
acumularam, as pesquisas se renovaram e este livro continua vivíssimo, com os
seus golpes de gênio e a sua escrita admirável – livre, sem vínculos
acadêmicos, inspirada como a de um romance de alto voo. Verdadeiro
acontecimento na história da cultura brasileira, ele veio revolucionar a visão
predominante, completando a noção de raça (que vinha norteando até então os
estudos sobre a nossa sociedade) pela de cultura; mostrando o papel do negro no
tecido mais íntimo da vida familiar e do caráter do brasileiro; dissecando o
relacionamento das três raças e dando ao fato da mestiçagem uma significação
inédita. Cheio de pontos de vista originais, sugeriu entre outras coisas que o
Brasil é uma espécie de prefiguração do mundo futuro, que será marcado pela
fusão inevitável de raças e culturas.
Sobre o mesmo tópico (a
sociedade colonial fundadora) é preciso ler também Formação do Brasil contemporâneo,
Colônia (1942), de
Caio Prado Júnior, que focaliza a realidade de um ângulo mais econômico do que
cultural. É admirável, neste outro clássico, o estudo da expansão demográfica
que foi configurando o perfil do território – estudo feito com percepção de
geógrafo, que serve de base física para a análise das atividades econômicas
(regidas pelo fornecimento de gêneros requeridos pela Europa), sobre as quais
Caio Prado Júnior engasta a organização política e social, com articulação
muito coerente, que privilegia a dimensão material.
Caracterizada a sociedade
colonial, o tema imediato é a independência política, que leva a pensar em dois
livros de Oliveira Lima: D. João VI no
Brasil (1909) e O movimento
da Independência (1922),
sendo que o primeiro é das maiores obras da nossa historiografia. No entanto,
prefiro indicar um outro, aparentemente fora do assunto: A América Latina, Males de origem (1905), de Manuel Bonfim. Nele a
independência é de fato o eixo, porque, depois de analisar a brutalidade das
classes dominantes, parasitas do trabalho escravo, mostra como elas promoveram
a separação política para conservar as coisas como eram e prolongar o seu
domínio. Daí (é a maior contribuição do livro) decorre o conservadorismo, marca
da política e do pensamento brasileiro, que se multiplica insidiosamente de
várias formas e impede a marcha da justiça social. Manuel Bonfim não tinha a
envergadura de Oliveira Lima, monarquista e conservador, mas tinha pendores
socialistas que lhe permitiram desmascarar o panorama da desigualdade e da
opressão no Brasil (e em toda a América Latina).
Instalada a monarquia pelos
conservadores, desdobra-se o período imperial, que faz pensar no grande
clássico de Joaquim Nabuco: Um estadista
do Império (1897). No entanto, este livro gira demais em torno de
um só personagem, o pai do autor, de maneira que prefiro indicar outro que tem
inclusive a vantagem de traçar o caminho que levou à mudança de regime: Do Império à República (1972), de Sérgio Buarque de Holanda,
volume que faz parte da História
geral da civilização brasileira, dirigida por ele. Abrangendo a
fase 1868-1889, expõe o funcionamento da administração e da vida política, com
os dilemas do poder e a natureza peculiar do parlamentarismo brasileiro, regido
pela figura-chave de Pedro II.
A seguir, abre-se ante o leitor
o período republicano, que tem sido estudado sob diversos aspectos, tornando
mais difícil a escolha restrita. Mas penso que três livros são importantes no
caso, inclusive como ponto de partida para alargar as leituras.
Um tópico de grande relevo é o
isolamento geográfico e cultural que segregava boa parte das populações
sertanejas, separando-as da civilização urbana ao ponto de se poder falar em
“dois Brasis”, quase alheios um ao outro. As consequências podiam ser
dramáticas, traduzindo-se em exclusão econômico-social, com agravamento da
miséria, podendo gerar a violência e o conflito. O estudo dessa situação
lamentável foi feito a propósito do extermínio do arraial de Canudos por Euclides
da Cunha n’Os
sertões (1902), livro
que se impôs desde a publicação e revelou ao homem das cidades um Brasil
desconhecido, que Euclides tornou presente à consciência do leitor graças à
ênfase do seu estilo e à imaginação ardente com que acentuou os traços da
realidade, lendo-a, por assim dizer, na craveira da tragédia. Misturando
observação e indignação social, ele deu um exemplo duradouro de estudo que não
evita as avaliações morais e abre caminho para as reivindicações
políticas.
Da Proclamação da República até
1930 nas zonas adiantadas, e praticamente até hoje em algumas mais distantes,
reinou a oligarquia dos proprietários rurais, assentada sobre a manipulação da
política municipal de acordo com as diretrizes de um governo feito para atender
aos seus interesses. A velha hipertrofia da ordem privada, de origem colonial,
pesava sobre a esfera do interesse coletivo, definindo uma sociedade de
privilégio e favor que tinha expressão nítida na atuação dos chefes políticos
locais, os “coronéis”. Um livro que se recomenda por estudar esse estado de
coisas (inclusive analisando o lado positivo da atuação dos líderes municipais,
à luz do que era possível no estado do país) é Coronelismo, enxada e voto (1949), de Vitor Nunes Leal, análise e
interpretação muito segura dos mecanismos políticos da chamada República Velha
(1889-1930).
O último tópico é decisivo para
nós, hoje em dia, porque se refere à modernização do Brasil, mediante a
transferência de liderança da oligarquia de base rural para a burguesia de base
industrial, o que corresponde à industrialização e tem como eixo a Revolução de
1930. A partir desta viu-se o operariado assumir a iniciativa política em ritmo
cada vez mais intenso (embora tutelado em grande parte pelo governo) e o
empresário vir a primeiro plano, mas de modo especial, porque a sua ação se
misturou à mentalidade e às práticas da oligarquia. A bibliografia a respeito é
vasta e engloba o problema do populismo como mecanismo de ajustamento entre
arcaísmo e modernidade. Mas já que é preciso fazer uma escolha, opto pelo livro
fundamental de Florestan Fernandes, A revolução burguesa no Brasil (1974). É uma obra de escrita densa e
raciocínio cerrado, construída sobre o cruzamento da dimensão histórica com os
tipos sociais, para caracterizar uma nova modalidade de liderança econômica e
política.
Chegando aqui, verifico que
essas sugestões sofrem a limitação das minhas limitações. E verifico,
sobretudo, a ausência grave de um tópico: o imigrante. De fato, dei atenção aos
três elementos formadores (português, índio, negro), mas não mencionei esse
grande elemento transformador, responsável em grande parte pela inflexão que
Sérgio Buarque de Holanda denominou “americana” da nossa história
contemporânea. Mas não conheço obra geral sobre o assunto, se é que existe, e
não as há sobre todos os contingentes. Seria possível mencionar, quanto a dois
deles, A aculturação
dos alemães no Brasil (1946),
de Emílio Willems; Italianos no
Brasil (1959), de
Franco Cenni, ou Do outro lado
do Atlântico (1989),
de Ângelo Trento – mas isso ultrapassaria o limite que me foi dado.
No fim de tudo, fica o remorso,
não apenas por ter excluído entre os autores do passado Oliveira Viana,
Alcântara Machado, Fernando de Azevedo, Nestor Duarte e outros, mas também por
não ter podido mencionar gente mais nova, como Raimundo Faoro, Celso Furtado,
Fernando Novais, José Murilo de Carvalho, Evaldo Cabral de Melo etc. etc. etc.
etc.
* Artigo publicado na edição 41
da revista Teoria e Debate – em 30/09/2000
Antonio Candido é sociólogo, crítico literário
e ensaísta.